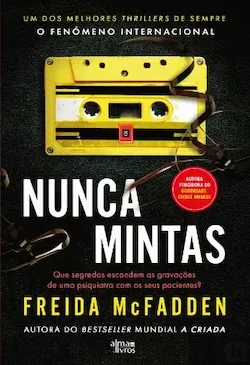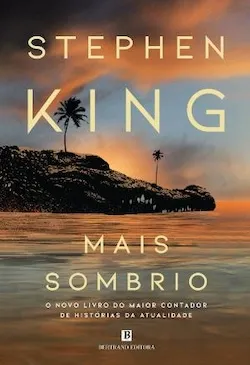Raízes - Lídia Jorge

William Faulkner - Um percurso de leitura
2012-03-07 00:00:00William Faulkner - Um percurso de leitura
William Faulkner
Um percurso de leitura
Lídia Jorge
Preparei esta sessão a pensar, sobretudo, nos estudantes universitários que viriam de longe e agora aqui se encontram entre nós. Mas enquanto a preparava, e ia colocando em algumas páginas estes pequenos papéis amarelos de marcação, em forma de bandeira, que transformam os livros numa espécie de iates, comecei a pensar que talvez William Faulkner tenha sido demasiado importante na minha vida para que eu consiga condensar, em pouco mais de quarenta minutos, a forma como este escritor me foi oferecendo a sua presença secreta ao longo dos anos, uma companhia mais forte do que a de algumas pessoas reais que me são próximas. E confesso que alguns receios me assaltaram.
Em primeiro lugar, porque tenho a consciência de que Faulkner é um escritor maior. Cada um de nós elege os seus escritores preferidos e, embora a sua importância não seja passível de ser medida, podemos sempre tentar explicar até que ponto somos impressionados por cada um deles e inscrevê-los numa espécie de escala. Em relação aos grandes escritores do século XX, não há dúvida de que toda a gente ver-se-á forçada a referir James Joyce, Virgínia Woolf, Proust ou Kafka, e naturalmente, no início ou no final da lista, sempre destacará William Faulkner como um dos mais originais, e as razões para tal não são poucas, de tal modo o seu mundo é original. Mas é preciso dizer que o escritor americano impressiona, acima de tudo, porque consegue conciliar dois aspectos opostos que os outros autores citados não puderam, ou não desejaram reunir.
Por um lado, tal como era próprio do início do século XX, Faulkner criou uma literatura de profundidade, de engrandecimento daquilo que é a interioridade inatingível da psique. Desceu ao fundo da pessoa humana, mergulhou por inteiro na sua subjectividade, espreitando aquilo que jamais se destrinça, aquilo que parece não ter forma nem razão e no entanto, move obstinadamente os homens para uma acção e um destino. A sua escrita alimenta-se antes de mais dessa matéria, e, embora tenha confessado que nunca leu Freud, absorveu com certeza o caldo cultural que dele resultou, bem como os conceitos de tempo interior e de corrente da consciência, segundo o formulário de Henry Bergson e seus descendentes. Simplesmente, o que acontece é que o autor do Mississípi cruza, de uma forma única e como nenhum outro, este mergulho no subjectivo e na interioridade com a manutenção de uma estética realista, diria mesmo até, naturalista, no que diz respeito à reprodução do concreto exterior e do objectivo. Faulkner consegue fazer a junção destas duas perspectivas de uma forma única, diria mesmo, teatral e cinematográfica, e por alguma razão ele mesmo foi argumentista e vários dos seus livros acabaram, na altura, por ser adaptados ao cinema. Ao que se deve acrescentar ainda que Faulkner, do ponto de vista da intensidade das paixões, é um escritor que escreve para veteranos. Não escreve para quem quer apenas ler para passar o tempo. Quando lidamos demoradamente com a sua obra, ela não permite que fiquemos como éramos antes de iniciar a primeira página, porque a sua escrita possui a força de uma verdadeira acção transformadora.
Claro que é sempre muito difícil apontar as razões por que certa escrita desencadeia determinado fascínio sobre os leitores, sendo mais fácil explicar como, e através de que percurso, um escritor desta natureza se instala dentro da vida de uma pessoa e permanece por muito tempo. Em face disso, eu poderia adoptar uma perspectiva exterior para falar de Faulkner, mas evito-o pois volto a pensar nos estudantes actuais, que, muitas vezes, se enganam, acreditando que, para saberem alguma coisa sobre um autor, lhes bastará visitar o Google. Consultar os dados já formatados, ajuda, mas não basta. É preciso dizer que a actual busca na esfera da informação electrónica implica um percurso muito simplificado em relação àquele que as pessoas da minha geração eram obrigadas a fazer para terem acesso ao mundo dos livros, simplificação que em si é um bem, mas permite deixar para atrás o mais importante, o verdadeiro encontro do leitor com as páginas. Pois é precisamente sobre um caminho diverso, que se traduziu por um encontro tacteado, rudimentar e desprevenido, com o mundo deste autor, que vos venho falar.
Devo dizer que em adolescente fui uma leitora bastante razoável, mas não li autores norte-americanos. Entre os dezasseis e os dezassete anos, li algumas obras de John Steinbeck [1902-1968], depois de ter incensado, como todas as raparigas da minha idade, A Cabana do Pai Tomás [1852, de Harriet Beecher Stowe, 1811-1896] e outros textos românticos afins. Creio ter lido também um resumo de E Tudo o Vento Levou [1936, de Margaret Mitchell, 1900-1949] e O Fio da Navalha [1944, Somerset Maugham, 1874-1965], e devo ter ficado por aí. Depois, acabei por ingressar no curso de Românicas, na Faculdade de Letras. O que significa que, nessa altura, os meus autores não eram os anglo-saxónicos, e que o primeiro autor modernista a que tive acesso foi Marcel Proust [1871-1922]. Por essa altura, estávamos no alvorecer do grande boom do estruturalismo, e as aulas de análise literária, que abarcavam várias literaturas, limitavam-se à anatomia de textos e, muitas vezes, certos apontamentos, como hoje com o Google, até dispensavam a sua leitura integral. No meio de tudo isso, certamente que os professores cumpriam o seu dever, mas na altura, fiquei com a sensação de que a minha passagem pela Faculdade de Letras havia sido um estágio de cinco anos feito contra aquilo de que eu mais gostava - a leitura espontânea e inocente dos livros.
Para mais, a janela mais importante através da qual eu e os meus colegas espreitavam para o mundo criativo, continuava a ser a da literatura francesa, sobretudo na vertente da literatura existencialista, o que em abono da verdade constituía entre nós, nessa altura, uma lança em África, e traria, aliás, bastantes dificuldades políticas à regente da cadeira. Ora, o que acontecia é que todo aquele enquadramento filosófico e ideológico em que se vivia acabava por amarfanhar a leitura espontânea dos textos, e piorou, sobretudo nos últimos anos, quando se instalou o síndrome do nouveau roman como uma régua encostada à qual se desenhava a modernidade literária. Lembro-me perfeitamente de tentar imitar a fórmula oferecida por esse tipo de estética, imitar sobretudo a escrita em detalhe de La Jalousie [1957, Alain Robbe-Grillet], 1922-2008]. Por essa altura, aprendiz de escrita que se prezasse, preenchia páginas e páginas, descrevendo o movimento das sombras ou as manchas da humidade nas paredes, segundo o último grito do modelo francês. Lembro-me de ficar umas boas horas a mais na praia para observar e descrever, vezes sem conta, o movimento das pernas dos banhistas a entrarem e a saírem da água. Era o espírito da época. Na minha ideia, porém, ia-se estabelecendo, pouco a pouco, uma certa contradição. É que a vida, na realidade, mostrava-se em sua crueza, cheia de esforço e sangue, enquanto a literatura da moda apresentava-se-me repleta de insignificância. Mas quando terminei a faculdade, tive a alegria de perceber que nas páginas de muitos outros livros, nem tudo tinha adormecido.
De repente, encontrei novos autores e recomecei, outra vez, a fazer leituras selvagens, sem análises nem informação, comecei a ler páginas que tinham a ver com a minha própria experiência. Entre eles, um livro oferecido por uma pessoa amiga, livro que ciosamente guardo comigo, porque marca o meu primeiro contacto com William Faulkner. Chamava-se O Homem e o Rio, uma pequena edição da Europa-América, tradução original de Luís Sousa Rebelo, trabalho que previamente havia sido feito para uma edição da Portugália. Hoje em dia, penso que se trata de uma tradução um tanto pudica, mas é uma excelente tradução na mesma, e continuará a sê-lo pelo tempo fora. Aliás, na altura, não se me colocavam sequer semelhante tipo de questões. Só sei que tive uma alegria extraordinária quando li este livro. Finalmente alguma coisa que me dizia respeito vinha ter comigo. Preciso de explicar porquê.
Nasci e cresci no campo, e acredito que viver em espaços abertos permite uma vivência particular, muito diferente de quando se passa a infância numa cidade seja ela qual for. A cidade dá-nos a ideia de que a providência é uma potência administrativa, de que alguém numa secretaria nos protege e de que, se precisarmos de alguma coisa imprescindível, existe sempre uma porta numerada onde bater. Na cidade, acreditamos que não estamos sozinhos, que existe um intermediário entre o absoluto e nós mesmos, um intermediário tão decisivo que o absoluto pode até ser esquecido. Por isso, a cultura urbana é irónica e dispensa o dramatismo e a epopeia, o confronto com este tipo de totalidade, que se apreende quando se é criança e se vive num clima de rudeza. No campo, nos grandes espaços, ou junto ao mar, aprende-se que a solidão dos homens é imensa, que a morte acontece como uma espécie de cerimonial perante a Natureza e que é preciso permanentemente negociar com a totalidade para se obter alguma coisa de útil. Era essa a experiência que eu trazia comigo, era sobre essa dimensão que eu gostava de escrevinhar e tomar apontamentos, e era precisamente essa grandeza áspera que eu gostava de encontrar nos livros. De repente, eu deparava com esse mundo, de forma nova, e surpreendente, todo por inteiro, condensado naquele pequeno livro.
O que contava ele?
O Homem e o Rio é a história de dois condenados a trabalhos forçados numa colónia penal do Mississípi, perto dos campos de algodão. Um deles tem apenas 25 anos, não tem nome, é alto, esgrouviado, mal amanhado, cometeu um pequeno crime, que nem ficou bem provado, um crime mal preparado, influenciado por histórias e ficções detectivescas. Imitando histórias que lia, o alto magro simplesmente tinha resolvido mascarar-se, pegar numa lanterna, fazer um assalto num comboio, mas o plano não se cumpriu, o assalto falhou e acabou por ser condenado a quinze anos de prisão maior. Quando a acção se inicia, ainda lhe faltam cumprir dez.
O outro forçado, tal como o autor o descreve, é baixo, gordo, branco, e tem para cumprir 199 anos de prisão. No entanto, poderia não ter de os cumprir, ou ter apenas de cumprir uma pena muito mais leve, se acaso não tivesse tido receio de entrar pela porta certa em frente do tribunal. Como no local se encontrava uma mulher gesticulando, aos gritos, uma mulher com quem ele fora apanhado dentro de um carro que havia roubado, teve receio e vergonha da mulher e entrou pela porta errada. Em consequência, foi julgado pelo Tribunal Federal e apanhou 199 anos de cadeia. São estes os dois homens que estão aí, no início da história de O Homem e o Rio que, aliás, será contada por um deles, o primeiro, o alto e esgrouviado.
Em que consiste, então, a história propriamente dita? Remonte-se ao tempo da narrativa. As cheias do Mississípi em 1927 desencadeiam uma catástrofe que altera, por completo, o curso do rio. Aqueles dois homens, tal como outros prisioneiros, tiveram de sair da colónia prisional, abandonando a zona onde se encontravam. Primeiro, foram amarrados a um camião, depois, metidos num comboio e, por fim, empurrados para dentro de umas canoas, para irem salvar pessoas que andavam refugiadas pelos telhados e pelas copas das árvores. Aqueles dois, em concreto, teriam de ir salvar uma mulher que estava pendurada de uma delas. Só que, a certa altura, a canoa vira-se, há um redemoinho, e um dos forçados acaba por desaparecer da vista dos guardas. Os guardas ficam convencidos que o prisioneiro ou fugiu, ou morreu afogado. Só que o prisioneiro acaba por recuperar a canoa e por salvar a mulher, que está grávida e prestes a ter a criança. Então, ao longo destas páginas, assistimos ao seu dilema. Por um lado, o forçado quer entregar-se e demonstrar que não fugiu, que se tratou de uma manobra do acaso, mas, quando o tenta, acabam por alvejá-lo e ele foge. Por outro lado, quer depositar a mulher em algum sítio conveniente, para que ela possa dar à luz. Ela mesma lhe pede que encontre rapidamente um pedaço de terra seca porque a criança está prestes a nascer. O prisioneiro consegue conduzi-la a um mouchão e é nessas circunstâncias que a mulher dá à luz, sozinha, no meio da água, ajudada na medida do possível pelo prisioneiro. O cordão umbilical do recém-nascido é atado com os atacadores dos sapatos do forçado, e cortado com uma lata que está por ali a boiar. Mas o mouchão é o local para onde as cobras afluem, umas atrás das outras, e é no meio desta situação trágica que a criança conhece o primeiro poiso. A história desenrola-se numa situação extrema de confronto com a infelicidade, o despojamento, o acaso aleatório e em total relação com o absurdo da existência. Durante mais de dez dias, o forçado andará com aquelas duas criaturas por ali, vagueando na água, sem destino concreto. Resta dizer que o forçado sente-se perturbado pela presença da mulher e da criança. Mas, tal como acontece com o seu amigo, ele tem uma espécie de barreira de honra, de parede inviolável, que é o seu último reduto de dignidade. Por isso, ele não toca na mulher a quem respeita até ao final, protegendo em simultâneo a vida da mãe e do filho. Por fim, passado o pico da cheia, ele, que poderia ter sido livre, podendo ter fugido como outros, no meio da confusão, ele volta para a prisão para cumprir o resto da pena. Decorrido algum tempo, acabará por receber um postal em que a mulher dá conta como, pelo seu lado, lá fora, a sua vida corre normal. Como numa fábula cujo final facilmente se deduz, o forçado ficará sem palavras. Ele e nós, retiramos a conclusão.
Sobre o episódio do mouchão, convirá ler a seguinte passagem:
Quando a mulher lhe perguntou se ele tinha uma faca ali ao pé e a escorrer na roupa em que havia sido alvejado da segunda vez por uma metralhadora nas duas ocasiões em que vira alguma vida humana, depois de ter deixado o dique há quatro dias, o forçado sentiu-se exactamente como se tinha sentido na barca em fuga, quando a mulher lhe sugeriu que era melhor apressarem-se. Sentiu a mesma afronta aviltante de uma condição puramente moral, a mesma impotência raivosa para encontrar uma resposta, de modo que, em pé, perante ela, gasto, sufocado e inarticulado, levou um bom minuto a compreender o que ela estava agora a gritar: a lata, a lata no barco. Não pôde prever o que a mulher queria fazer com ela, nem sequer se admirou ou parou para lhe perguntar. Desatou a correr. Desta vez, pensou: É outra cobra, quando o grosso corpo se quedou truncado naquele reflexo grotesco que nada tinha de alarme mas somente de atenção, sem ele ter mesmo mudado a passada, ainda que soubesse que o pé na carreira iria cair à distância de um metro da cabeça chata. A proa do barco estava varada no declive, onde a vaga o colocara e havia outra cobra que escorregava sobre a popa para dentro dele e quando se curvou para a lata que havia servido de chaleira, viu qualquer outra coisa que boiava em direcção ao mouchão, não sabia o que era, uma cabeça, um rosto na vértice de um V de pequeninas ondas. Agarrou na lata e por pura justaposição dela e da água encheu-a até aos bordos, desandando logo. Então viu outra vez o mesmo veado ou outro qualquer, isto é, viu um veado, um olhar de soslaio, um ligeiro fantasma, cor de fumo. Encontrou uma vista de ciprestes, logo sumida, desvanecida, sem ele ter feito uma pausa para olhar, galopando em direcção à mulher, ajoelhando ao seu lado e levando-a aos tais lábios até que ela lhe indicou melhor serviço. Contivera um litro de feijões ou tomates, qualquer coisa hermeticamente selada, e fora aberto por quatro golpes da cunha de um machado, ficando com uma aba de metal revirada, de pontas dentadas e agudas como uma navalha, ela disse-lhe como devia servir e ele utilizou-a em vez de uma faca, tirou um dos atacadores e cortou em dois com a lata aguçada, depois ela quis água quente. Se tivesse um pouco de água quente, murmurou numa ténue voz serena, mas sem qualquer presença, sem qualquer esperança particular, e ele então pensou nos fósforos, como quando ela lhe perguntara se tinha uma faca, até que rebuscou nos bolsos do dólmen, que encolhera, e de onde tinham sido arrancados as divisas e o emblema do batalhão, o que para o forçado não tinha qualquer significado, e tirou uma caixa de fósforos que havia ficado entalada entre dois cartuchos da pistola metralhadora, encaixados um no outro.
Esta é uma das passagens centrais da acção. Na altura, ao relacioná-la com o desfecho, várias vezes a reli, pensando que se produzia a nível do desenlace uma injustiça de alcance insuportável. É verdade que com o tempo, todos nós aprendemos a reconhecer que no interior das páginas dos livros não existe uma máquina de fazer justiça, os livros não são feitos para criarem essa ordem nem semelhante à vivida, quando acontece, nem semelhante à desejada, mas, naquela altura, eu era bastante jovem e custava-me que o forçado ficasse isolado do mundo por mais dez anos e nunca mais soubesse nada sobre aquela mulher. Até porque o outro, o gordo dizia: «As mulheres...» Mas não interessa. O que importa é que foi o encontro com esta humanidade recortada na aspereza primordial da vida, que me fez ter a sensação de que os livros de que eu gostava afinal existiam em algum lugar e estavam à minha espera.
E depois, por mero acaso apareceu-me, em casa, Palmeiras Bravas. Era uma primeira tradução editada pela Portugália que me permitiria um novo encontro com o mesmo autor. Estava perante um novo livro e agora, interessava-me sobretudo ultrapassar a ideia de injustiça com que tinha ficado da leitura de O Homem e o Rio. Mal sabia o que me esperava. Palmeiras Bravas é uma das histórias de amor mais dolorosas escritas até hoje. Espécie de conto longo, Faulkner intitulara-o como If I Forget Thee, Jerusalem…. Conta a história de Charlotte, uma mulher casada e com duas filhas, que decide renunciar ao papel tradicional de esposa e mãe, para viver uma nova vida ao lado de um outro homem, o jovem médico Harry Wilbourne, que acabará por levar à prisão, lembrando o destino do forçado magro, da primeira história. Aliás, tanto em O Homem e o Rio como em Palmeiras Bravas, são as mulheres quem conduz o destino final dos homens. Em Palmeiras Bravas, Charlotte conduz Wilbourne por um caminho de extrema dificuldade, porque acredita que o caminho do amor é uma espécie de destino da sua vida. Para ela, o amor é uma espécie de acto religioso absoluto, a lua-de-mel sem fim de uma sacerdotisa profana, algo que, aconteça o que acontecer, é mais importante do que a vida e a morte. O que dita uma espécie de submissão ao império do sentido e dos sentidos, a única metafísica possível que ela entende, um esforço de amar em absoluto até ao fim da vida como a única transcendência possível. Determinada por esse sentimento que tudo arrasta, Charlotte abandona o marido e as filhas e, quando fica grávida de Wilbourne, acaba por lhe pedir que desmanche a criança. O médico faz o desmancho com uma faca de cozinha e ela acaba por morrer. Como se ambos não pudessem ter-se afastado da senda prometida, no final, ele aceita ser condenado, em nome de tudo isso. Resumido assim, pode parecer estranho? Pode.
Palmeiras Bravas é uma história triste, escrita de forma admirável, sobretudo para a altura em que foi publicado, construída a partir de imagens tergiversadas, numa relação cruzada entre interior e exterior absolutamente eficaz. Quando se chega ao fim, está-se completamente preso por este livro. Mas, na altura, os processos de construção pouco me interessavam, o que eu perguntava era o seguinte - Mas quem é este autor que considera a mulher como o objecto da destruição neste mundo? A minha ideia era a de que este autor, como muitos outros, concebia o homem como um ser desordenado, uma espécie de faisão mal jeitoso caído sobre a terra, sendo a mulher, objecto do desejo do homem e geradora das crianças, a causa do seu anátema interior. Os dois livros que eu tinha lido conduziam-me a essa conclusão. Pois bem, eu desconhecia então, e só fiquei a saber muito mais tarde, que O Homem e o Rio e Palmeiras Bravas (que, só por acaso, haviam chegado juntos à minha cadeira de leitura) haviam sido publicados em conjunto, com os capítulos alternados. Faulkner tinha começado por justificar que os publicara assim porque individualmente não teriam dimensão suficiente para a edição. Mas, depois, contou a verdade: havia-os escrito em simultâneo, alternando a escrita ora de um, ora de outro, o que torna compreensível que, em ambos a mulher apareça como castigo do homem. Afinal, eram versões diferentes para o mesmo tipo de prisioneiro. Agora, a interpretação do facto levar-nos-ia longe, mas de momento isso não interessa. Bastam as evidências. Fosse como fosse, assim tinha entrado quase involuntariamente, na temática central de Faulkner.
Mais tarde, eu mesma comprei um outro livro do autor, o romance Santuário, numa edição francesa. Vinha com a indicação de que André Malraux [1901-1976, romancista, crítico literário, membro da Académie Française] havia sido o mentor do enorme sucesso deste livro em França, afirmando que esse romance representava «a inserção do romance policial na tragédia grega», reconhecendo em Faulkner um autor de grande dimensão. Santuário narra como uma rapariga sulista de dezassete anos, Temple Drake, levada por um forte desejo de experiência metafísica, de mística e de heroísmo, mas ao mesmo tempo imbuída de uma sensualidade invulgar, se oferece a todas as aventuras. Concretamente, ela decide seguir em viagem com seu namorado, porém, pelo caminho, ele vai-se encharcando em bebida até que têm um acidente de carro. Estão longe de casa e acabam por passar uma noite numa quinta muito especial, ele completamente embriagado, e ela rodeada de homens de baixa condição, gente nada recomendável, traficantes de álcool que destilavam uísque clandestinamente, gente que puxava da pistola e matava por dá cá aquela palha. Essa noite de estúrdia invulgar é descrita de forma invulgar. Existe esta jovem mulher que se oferece fisicamente a não importa quem, nem de que maneira e há todos aqueles gabirus que entram e saem constantemente daquele quarto, expressando-se todo esse ambiente através de uma escrita em ziguezague, sublinhando a própria perturbação das personagens. A lucidez não tem ali lugar, a não ser na cabeça da anfitriã, a única mulher que lá está para além de Temple, que a quer repelir, percebendo que a rapariga traz a tragédia com ela, o que, de facto, é verdade. No dia seguinte, um dos homens esconde Temple num celeiro, mas acaba por ser morto e ela estuprada com uma maçaroca de milho por um outro homem que é impotente, o célebre matador, Popeye. Toda esta situação invulgar é descrita sob um clima de grande densidade. Percebe-se que um facto terrível está para acontecer mas ele paira acima das personagens. Como se o mal estivesse à espera de ser incarnado num dos seres humanos, e rodopiasse sobre eles à procura do braço para executar um plano que a todos transcende. Quando se chega ao fim, percebe-se que estamos perante um escritor capaz de captar a realidade em todas as direcções, capaz de criar uma extraordinária multiplicidade de pontos de vista de modo a reproduzir a perplexidade e a desorientação próprias da tragédia.
Mas, em Santuário, o que mais me impressionava, de novo, era o facto de que a mulher continuasse a ser o foco da desgraça dos homens. Mais, no romance, a mulher de um dos homens, Goodwin, que será injustamente inculpado pelo crime, tem sempre consigo um filho deficiente, uma criança enfezada que aparece permanentemente, desde a primeira até quase à ultima página, como se quisesse ilustrar o tal princípio provocador de que não existe amor sem procriação. Este é um tema muito curioso, até há pouco tempo, até mesmo há escassos vinte anos, indissociável da literatura de ficção. É também curioso que o romance se chame Santuário, o nome do bordel para onde a rapariga é levada e onde serve fisicamente aqueles homens. Embora passe por uma situação abominável, ela não a sente como tal, ou, pelo menos, o autor nunca fala desse aviltamento como tal. O «santuário» aparece como uma zona de purificação. Não é a primeira vez que se dá em literatura esta inversão: o antro do pecado que se transforma em antro da santidade. Faulkner não está sozinho, conhecia muito bem os autores que vinham neste rasto de Schopenhauer e de Nietzsche e poderíamos referir vinte obras que o antecedem. Porém, ele fá-lo com uma mestria muito própria e com uma capacidade de escrita extraordinária. Há cenas absolutamente inesquecíveis. Como aquela em que a dona do bordel, que tem sempre consigo dois cães, dois cãezinhos brancos que não param de pular, os enxota com o rosário. Muito mais do que provocação do cómico, há neste tipo de cenas uma relação visual que une ironia e tragédia, uma espécie de dramaturgia cínica característica de Faulkner. Mas a minha pergunta continuava a ser a mesma - o que faz mover este escritor?
Por que a questão do amor é, provavelmente, a questão fundamental que move e explica a literatura. A forma como um escritor resolve o conflito no amor, o amor físico, o amor do homem pela mulher, o amor das pessoas umas pelas outras, é, de facto, uma espécie de ensaio ou de parábola de como o autor resolve o outro amor hipotético, o de algum Deus que, por acaso, nos tenha criado.
Mas só muito depois desta leitura de Santuário é que descobri que em relação ao segundo livro que tinha tido ocasião de ler, Palmeiras Bravas, o título havia sido atribuído pelo editor da Random House à revelia do autor, que escolhera antes Se Eu Te Esquecer, Jerusalém, acontecendo que hoje em dia, os dois títulos surgem habitualmente juntos, com o último referenciado após o primeiro, entre parêntesis. O que significa que Faulkner tinha desejado fornecer um respaldo religioso àqueles dois contos longos, O Homem e o Rio e Palmeiras Bravas, convocando o bíblico Salmo 137, sobejamente conhecido em Portugal - «Se eu te esquecer, Jerusalém, / que eu esqueça a minha mão direita / e que a minha língua fique colada ao céu da boca». Numa interpretação corrente, poder-se-á entender que William Faulkner escolheu semelhante referência partindo da ideia de que a felicidade se encontra além do amor humano. Porém, François Pitavy, num texto muito interessante que serve de introdução a uma publicação francesa de Palmeiras Bravas, explica a escolha de uma outra maneira. Segundo Pitavy, Faulkner quer-nos, afinal, dizer que os seus personagens masculinos têm saudade de uma Jerusalém particular, saudade da transfiguração do tempo em que foram rapazinhos, o momento ideal em que não estavam comprometidos com a mulher e com o amor. E, na verdade, às vezes, Faulkner dá-nos esta impressão. Na célebre entrevista que concedeu em Nova York, no início de 1956, à sua amiga muito especial, Jean Stein, para a Paris Review , a certa altura, o autor dá a seguinte imagem do sucesso:
«O sucesso é feminino e é como uma mulher; se a adulamos, dá cabo de nós. Portanto, o modo de a tratar é mostrar-lhe as costas da mão. Talvez assim ela rasteje.»
As entrevistas, mesmo as muito prevenidas, sempre incluem momentos de íntima verdade. Talvez François Pitavy tenha razão em interpretar o título Se Eu Te Esquecer, Jerusalém como o sinal da saudade de um momento passado. A causa profunda da decepção, pode ser, pura e simplesmente, saudade de quando se estava só com o seu pai, só com o rio, só com a paisagem, quando se estava em sua casa e se era jovem e ainda não se tinha experimentado o embate com o mundo. Nesse tempo, ele ainda não era um homem e, também, ainda não era um sofredor.
Regresso agora atrás, para dizer que o que me aconteceu em relação a William Faulkner, é que comecei a ler a sua obra ao contrário. Comecei por ler dois livros de 1939, O Homem e o Rio, e Palmeiras Bravas, e só depois li Santuário, um livro com data de 1931, vindo a ser a minha quarta leitura O Som e a Fúria, livro publicado em 1929. Mas ainda bem que o simples acaso quis que não tivesse seguido a ordem cronológica. Devo dizer que, mesmo já movida pelo béguin que tinha desenvolvido em torno da escrita deste autor, quando cheguei a esta quarta etapa, fiquei perplexa. Tive muita dificuldade em entender a primeira parte do livro, e só à terceira ou quarta vez em que voltei para trás, decidida a decifrar aquela atmosfera por demais enevoada, é que entendi o que ali estava. Faulkner não brincou connosco. Brincou com ele mesmo, mas brincou a sério e escreveu algumas das páginas mais sérias e inspiradas da ficção universal. A narrativa repousa sobre o caso de uma família aristocrática do Sul, os Compson, que tinham sido pessoas de grandes pergaminhos, à data, completamente arruinados, mas alguns membros da família ainda mantinham traços da altivez e da honra antiga. Por isso, a mãe não gosta que chamassem Benjy ao seu filho Benjamin, autista, ou Caddy à sua filha Candece. Assim como não queria aceitar os cheques da filha, porque achava que ela se prostitua. Pois bem, no primeiro capítulo, estamos no dia do trigésimo terceiro aniversário de Benjy, o atrasado mental. Este primeiro capítulo é muito extenso, nele se misturam todos os tempos e é a partir de uma visão desordenada, como se o discurso passasse por uns olhos desfocados, que se irá juntar uma série de dados misturados, dados do presente e do passado. Inclusivamente, a mãe e a filha são representadas através de uma visão que as junta. O mesmo olhar vê a mãe, no passado, a subir à tal pereira mostrando a cueca cheia de lama, e a filha está a fazer a mesma vida da mãe, a fugir de noite pela janela, e por isso se encontra um preservativo no quintal. O primeiro capítulo funciona como um ovo, o embrião e o somatório de tudo o que será mais tarde sugerido ou mesmo contado.
Quando comecei a ler O Som e a Fúria, a primeira impressão que tive foi de que havia um escândalo qualquer no ar a unir aquelas páginas. E esse escândalo já ali estava, espalhado aos pedacinhos, semeado naquela quinta, para onde se iam jogando, uma após outra, as bolas do golfe. Mas, eu não sabia juntar as peças. E para o conseguir, foi preciso passar para a segunda parte, chegar até ao célebre texto de Quentin, o grande texto do livro. O momento mais forte está ali. Quentin, aquele que se vai afogar, que teve uma paixão platónica pela irmã e que, na sua alma, cometeu incesto, é uma personagem hamletiana. O texto de Jason, terceira parte do romance, é também magnífico, com a descrição de como ele, perverso, explora a filha da irmã e a própria irmã, e cá temos, de novo, a figura maligna das mulheres. A pujança da sexualidade, mais uma vez, explorada como um dos elementos da tragédia e da decadência.
Devo dizer que não me admiro nada que a maior parte ou, pelo menos, grande parte dos escritores que contacto refiram O Som e Fúria como o grande livro que lhes ensinou alguma coisa que não aprenderam noutro lugar. Talvez neste título esteja, de facto, a explicação sobre o que Faulkner pensa da vida e o que fez na literatura. Este título, retirado de uma frase de Macbeth, a peça de Shakespeare, “A vida é uma história contada por um idiota cheio de som e fúria”, é não só o emblema deste romance de Faulkner, mas talvez, de toda a sua obra. Para lá disto, há a outra parte - a que sai fora deste desarranjo que é a vida transferida para o literário, e que o escritor, no plano da realidade, acabou por inverter salvando a sua própria vida, dando-lhe um sentido muito particular, e, pugnando, em relação aos outros, por uma justiça pela qual claramente se bateu. Mas de momento o que interessa é que estes foram os livros que fizeram o meu baptismo junto de Faulkner.
Depois, fui lendo os outros livros do autor. E, a certa altura, de tal forma a sua obra me impressionava, que tive a tentação de me interessar pela biografia. Como se sabe, pouco ficou escrito por ele mesmo, e até pouco se conhece da sua vida. Hoje, porém, há imensas biografias que fazem render o que pretensamente terá ou não dito ou feito. Mas, devo dizer-vos que fui tentada a perceber Faulkner indo aos seus sítios, procurando-o nos seus lugares, o que aconselho fazer a quem se interesse pela obra e seja possuído pela capacidade de destrinça de modo a não fazer coincidir o real com o imaginado. Aconselho, a quem for capaz de aguentar com fleuma, esse tipo de embate. O embate com Jefferson, afinal a concreta cidade de Oxford, no Mississípi, com os campos do Mississípi, onde o autor viveu e onde situou o mítico condado de Yoknapatawpha. Tenho a ideia de que se pode aprender alguma coisa ali, envolvendo a Literatura, mas rodeando-a, também. Pode-se perceber como era a casa, a relação dele com a filha, a relação dele com os animais. A relação com o seu cavalo, o que significava para Faulkner montar a cavalo. Tudo isso está muito vivo, e magoa, nem se sabe porquê. Alguém nos mostra as botas debaixo da cama, os últimos apontamentos que escreveu, dizem-nos que as pessoas das redondezas gostavam tão pouco de William Faulkner, que, no dia do seu enterro, o comércio só fechou durante escassos quinze minutos. Os vizinhos podem-vos dizer que ele só conseguiu entrar na Força Aérea porque se encheu de bananas e bebeu imensa água para ter o peso necessário para ser incorporado. Diante das fotografias em que aparece montado no cavalo, dir-vos-ão que o seu patrício só gostava de montar porque, não sendo alto, essa era a forma de se fazer superior, perante os outros. Dirão que foi um casmurro, que morreu porque quis, de uma queda a cavalo, porque a vaidade o fez cavalgar quando já não podia. Contar-vos-ão histórias de mulheres e dos bordéis que frequentou. A certa altura, perguntamo-nos mesmo se acaso a obra consegue sobreviver ao roçagar da vida. Consegue sempre. É claro que, entretanto, também podemos encontrar pessoas que veneram o seu William Faulkner, e há muitas, que guardaram tudo o que lhe pertenceu ou foi por si tocado, que se referem ao papel fundamental que teve no modo de olhar a sociedade na relação entre os brancos e os negros, que dizem que o texto que ele leu em 1950, no momento em que recebeu o Prémio Nobel, é uma peça humanista das melhores que foram produzidas no século XX, etc., etc. Felizmente, existem esse dois lados. Mas continuo a pensar que é muito difícil, perante o que sobeja de um realidade que ainda se impõe, chegarmos à obra e a obra ser só a obra. Se isso acontece, e é o meu caso, voltamos outra vez a pensar que William Faulkner conseguiu criar um mundo que é independente do mundo. Um mundo tão grande, que é muito maior do que ele mesmo. Criou um Sul dos Estados Unidos da América, muito maior do que o Sul, e a América. Criou uma literatura, uma obra, que o ultrapassaram a ele e aos seus lugares. É por isso que tanto respeitamos gostamos daquilo que escreveu. Gostamos de entrar para dentro da sua obra e de voltar a fazer os seus percursos reais feitos com palavras. Como aquele que, enfim, ainda quase perto da adolescência, eu comecei a fazer um dia, quando nos barcos dos forçados, lutei pela primeira vez contra a imensidade das águas para salvar uma rapariga grávida pendurada de uma árvore.
FIM
Mais raízesVoltar